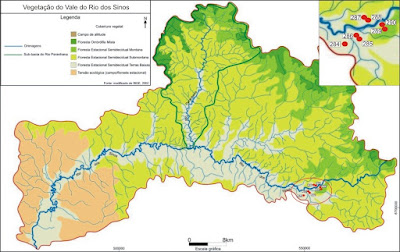Aloir Pacini, sJ
Apresentar-me com um pouco de leveza parece ser um bom começo de conversa. Com 9 meses eu nasci... Depois de 9 meses caminhei... Depois de mais 9 meses comecei a balbuciar as primeiras palavras... Depois de 9 anos comecei a trabalhar na roça e nas carvoarias... Depois de mais 9 anos tomei a decisão de ser jesuíta... Com 33 anos fui ordenado Padre (pai)... Com 66 anos desejo ser mais livre... com 99 anos já posso partir.
Sou Aloir Pacini, peregrino da Paz.
Sou terra fecunda, argila nas mãos do oleiro.
Sou semente que cresce e pinheiro milenar.
Sou pés que caminham, cruz fincada nesse chão.
Sou mãos que servem... corpus de paz.
Sou água das fontes, rio caudaloso e mar.
Sou vidro transparente... filho de Deus.
Sou chamado irmão de Jesus.
Sou coração valente para a Justiça e a Paz.
Sou fogo que queima e aquece.
Sou Luz em movimento a iluminar.
Sou Arte d’Aquele que me enviou.
Sou Palavra sistêmica a cantar.
Sou sol, lua... instrumento constelar
Sou todo ouvidos, mesmo feridos...
Sou sopro do Espírito Santo nesse céu.
Nas dores e misérias dessa vida, sou ar e vento a dançar.
(inspiração em Eclesiástico 51,18-38).
Meu pai que só fora até a 4ª série primária, na sua prática de vereador falava sempre: “A gente fez [isso e isso e aquilo].” E eu admirava seu modo de liderar o povo. E minha mãe falava: “A prática do Padre hoje foi bonita!” E eu pensava como era interessante associar a homilia do Padre com a vida dos jesuítas que atendiam a comunidade Sagrada Família onde eu nasci. Minha trisavó dizia que tinha muito trabalho quando pelava o porco ou o macaco antes de comer e que pensava que não precisava ter pelos no corpo, esse negócio parece sujeira e pensava no meu trisavô que todo dia tirava a barba e deixava o bigode, mas seu pelo era fino e macio e o pelo dela era duro. Por isso lembrou da história de seus antepassados.
Antigamente duas famílias de gente-macaco brigaram. Uma era chamada Prego e a outra Gaúcho. A tropa dos Gaúchos foram para mais longe para evitar as confusões e conflitos e pediu a Tupã que eles ficassem sem pelos para não serem mais identificadas pelos Pregos. Então Tupã perguntou como seria isso de ficar sem pelos pelo corpo, iriam passar muito frio. E o chefe dos Gaúchos disse que iriam guardar as peles e as penas de outros para se aquecerem, iriam tecer o algodão e fazer roupas, iriam fazer casas para morar e assim não passariam frio. E Tupã viu que havia boa disposição dos Gaúchos, por isso lhes concedeu o pedido. Mas Tupã pensou mais longe e perguntou também como iriam distinguir os homens das mulheres se não tivessem mais pelos pelo corpo. E então o chefe dos Gaúchos disse que de fato era complicado não ter essa distinção.
Então Tupã interveio e disse que, por ter atendido o pedido anterior, então agora Ele faria com que nascêssemos pelados, sem pelos, mas que cresceria o cabelo na cabeça de ambos, homens e mulheres, mas que os homens aos poucos o perderiam, para saber que nasceram de uma mulher e que precisavam respeitá-las. Porém, deixaria também crescer o bigode e a barba, para diferenciar o homem da mulher. E assim Tupã determinou, concedendo que a barba pudesse ser tirada, mas que cada vez que fizesse isso lembrasse que descendemos dos macacos, mas o bigode não podia tirar, já que esse lembraria a aliança que fizera com os Gaúchos.
Por isso, o gaúcho pega um fio de bigode para lembrar do trato com Tupã, não precisa de contrato no papel, o que tratou está dito e feito. Penso que também hoje as mulheres que se depilam lembram nessa hora que descenderam dos macacos. Quando saí de casa, com 18 anos para ser padre, meu pai pediu que eu seguisse a tradição da família e deixasse o bigode. E, quando cheguei na aldeia dos Rikbaktsa, as crianças que tinham mais confiança chegavam e vinham conferir se os pelos pelo meu corpo era de verdade. E brincavam: “Parece macaco prego!”
1- Encontrei o amor da minha vida
Convivendo com os Rikbaktsa, os Chiquitanos, os Guaranis[3] e tantos outros indígenas percebi que a vida deve ser vivida no presente.[4] Os Chiquitanos afirmam que as chaves para abrir as portas dos céus são as cruzes, a principal é a cruz de Jesus. Os Mbyá-Guarani falam da cruz missioneira com 4 braços: a terra e a água; o fogo e o ar; também são as quatro direções da Missão, o norte e o sul, o leste e o oeste. Talvez por isso estou no pós-doutorado viajando em busca dos Guaranis, de minha trisavó Jouvita Garcia da Rocha.
No Brasil não temos apenas um grupo étnico, são 304 conhecidos e muitos outros desconhecidos, alguns dos quais em isolamento voluntário, chamados povos livres. Sempre procurei um entendimento do outro. Aprendi a observar a perspectiva ameríndia e parar de julgar seus comportamentos, seus modos de ser e conviver.
2- O corpo distingue, é a maneira de identificar o ser humano
Os Wapichana possuem mais de 100 espécies de mandioca. Existe um ritual para plantar e colher, o que identifica o seu território, lugar de bem viver.[6] Matar o outro para eliminá-lo não é bom, mas matar o outro para comê-lo é bom trocar antropofagia, as transformações do corpo para ser a mais digno comida, devolvendo ao outro sua eternidade porque será comida na festa é o ápice da vida em comunidade. Mitos dizem que a mandioca é gente, é uma pessoa também, os indígenas não pensam que os animais são selvagens, são humanos. Os mitos narrados mostram com sabedoria como os alimentos das roças são gente, os animais também são gente e dialogam conosco.
3- O ritual antropofágico
Existe um preconceito relacionado aos indígenas que desejo trabalhar aqui porque tem a ver com nossos antepassados, principalmente os Tupi, o ritual de antropofagia que merece ser observada com cuidado para compreender de forma sistêmica. Existe a antropofagia guerreira e a funerária. Tratam-se de rituais para dar continuidade à etnia, pessoa. E eu participei várias vezes entre os Rikbaktsa (MT) do final das suas festas e compreendi que ali estava-se celebrando a Comunhão da etnia onde cada pessoa tinha o seu papel a desempenhar, um ritual antropofágico usando macacos, pois a pressão foi muito grande historicamente para que não fosse mais feita com “humanos”.
Há uma maneira ritualizada de incorporar esse corpo do outro para que seja alimento e faça parte do nosso corpo. Essa antropofagia é dita guerreira porque Florestan Fernandes já mostrou que existe uma função da guerra entre os Tupinambás, ou seja, o guerreiro que vai ser ritualizado participa da cosmovisão e se oferece em sacrifício, como um valente guerreiro. No ritual antropofágico a pessoa é desafiada a mostrar sua valentia, quando escuta que será sacrificado e comido, este tem que responder à altura e dizer que não há problema porque seus descendentes da mesma forma virão o os levarão para também os comer em sacrifício. Isso é diferente daqueles que fazem guerra por cobiça ou por ódio e deixam os corpos dos inimigos jogados. Nessa guerra indígena, por exemplo, dois grupos competição possuem honra e mostram quão corajosos são e sua valentia fortifica até os inimigos, por isso, uma vez vencidos, podem ser alimento para os outros.
Na antropofagia guerreira a carne é boa comida quando captura a valentia no corpo do outro ser humano que é consumido, com o cuidado de fazer o processo de transformação, o que é a função dos pajés que abençoam esse corpo e conduzem o espírito do falecido para o lugar dele a fim de não atormentar as pessoas da aldeia. Assim o ser humano que foi transformado em “animal”, torna-se comestível para que possa se tornar alimento bom através do fogo, da água, ou seja, o ritual pode transformar todos os seres.
4- A antropofagia funerária
Há uma antropofagia funerária, mais rara, mas etnografada por Aparecida Vilaça entre os Wari de Rondônia, com detalhes diferentes, mas num sentido mais amplo, o mesmo modo de comunhão em que um se alimenta do outro. Comendo como gente, são as pessoas que se casaram com os parentes do falecido que são os escolhidos para que se alimentem daqueles que morrem. A forma de comer com modos à mesa, com palitinhos como os japoneses, mostra que se trata de um ritual, o objetivo principal não está relacionado com a falta de proteínas, mas para não deixar corpos humanos serem comidos pelos insetos ou vermes que são considerados seres inferiores, ou seja, fazem o ritual de comer sem mostrar prazer, mas como sacrifício. Esse ritual é feito como um gesto grande de amor pelo falecido, como é o amor no casamento que gera filhos nessa etnia. Simbolicamente a terra é feminina, pode ser mãe ou esposa, e há que falar com ela para manter uma boa relação. Quando semeia é como se tivesse uma relação sexual e quem cultiva coloca a semente para gerar novos frutos.
Já que a distinção vem pelo corpo, a parte do corpo que comemos é como se comêssemos batata, o milho, a mandioca etc. porque todos são humanos, são pessoas que incorporamos nas suas potencialidades para fazer parte de nossa identidade. Mas temos a capacidade de trabalhar para torná-lo parte dessa corporalidade Guarani, Chiquitana, Rikbakta, mandioca, milho, erva-mate etc. Uma vez que não vivemos sozinhos e tudo está conectado, todos temos que dialogar uns com os outros e trocar nossos elementos para que uns beneficiem os outros. Penso que, quando há um ritual antropofágico, tanto funerário ou para capturar a energia do guerreiro corajoso, estamos diante do sacrifício que traz para dentro de nós a força da saúde.
No mundo andino e nas terras baixas é comum essa percepção de que toda a criação tem alma (espírito), a comida também tem alma e tudo está conectado. Matar para comer é legítimo como no caso de antropofagia, pois os indígenas não têm problemas em semear, colher e comer mandioca, o milho etc., matar um animal e comê-lo. Mas, para isso tem que pedir permissão, fazer uma negociação, uma espécie de troca porque a economia é de reciprocidade, não se pode ser egoísta. Um detalhe é que, quando não sabem de que doença a pessoa morreu, o corpo do falecido não é comido, mas queimado para ser consumido no fogo.
5. Resistência para deixar aplicar a vacina
Nesse contexto de pandemia para os indígenas há uma dificuldade própria que acaba em resistência ao uso da vacina, principalmente por causa de campanhas perversas que induzem a pensar que esse procedimento imunológico poderia transformar as pessoas em jacaré, burros etc. o que não é metafórico para uma mentalidade religiosa que concebe essa possiblidade dentro da cosmovisão e os pajés são os que fazem suas viagens para saber curar transformando-se em outros seres e vendo a perspectiva desses.
Todos nós temos corpos diferentes, os tigres, os cães, as onças, os gatos, que mostram-se diferente nos corpos, mas são todos humanos. Se pensarmos que o vírus faz mal ao corpo, como vamos colocar esse inimigo para dentro de nós através da vacina. Colocar um animal do qual eles não se alimentam para dentro do corpo gera muita confusão. Quando os indígenas pensam na cura do corpo, eles não estão pensando em uma parte da pessoa, mas em toda a pessoa. Os vírus, as bactérias ruins ou alma (espírito) da pessoa morta que assombra e traz doenças precisa de rituais de cura para colocar o espírito da saúde de volta, para que a pessoa se alegre novamente e possa servir à comunidade, um sinal de cura.
As doenças ou a cura que fazemos através da mediação dos pajés é sempre uma ação ritualizada e expulsar de dentro de nós os “espíritos” maus que causam doenças são leituras religiosas que temos que fazer da realidade de uma forma mais holística, sistêmica. Não podemos continuar na esquizofrenia do mundo moderno que nos quebrou em pedaços, precisamos urgentemente compreender que estamos conectados com todos os seres e nossa saúde tem a ver com a harmonia que conseguimos estabelecer nas relações construídas através de encontros verdadeiros com cada um desses seres.
6- Novo Paraíso
Em 1989 fui convidado para auxiliar a fazer uma roça para a festa na aldeia Novo Paraíso. Mapadadi que me acolheu como um pai no clã Arara Amarela e me incorporou entre os Rikbaktsa, na madrugada cantou e mostrou qual das árvores competia a mim usar o machado para cortar. Ele tinha recebido em sonho licença do dono de cada árvore que se oferecia em sacrifício para ser feita a roça e cada um dos homens que ali estavam
Em Chiapas (México, 1999) encontrei-me com indígenas que estavam preparando a terra para semear milho. O que estava arando a terra com uma junta de bois não estava gritando com os animais como eu fazia na minha juventude, estava falando com a terra, pedindo licença para rasgar a pele da mãe-terra com o argumento que precisava dar de comer para sua família. Entre os Chiquitanos, seu Ito mostrou-me como chamava do Portal do Encantado as manadas de caititus quando solicitava permissão ao seu dono para poder caçar. Aprendi como tudo é oferecido em sacrifício para que o outro possa viver. Toda a comida é dada a nós em grande gesto de amor. Tudo que nos rodeia é dado para nós para que cuidemos e cultivemos com amor para aprender que temos que nos entregar aos outros com esse mesmo amor. Então, parece-me que para os indígenas antropófagos, o melhor para os corpos não é enterrá-los, como fazemos por imposição cultural, mas consumi-los, que é o mais digno a se considerar, quando se tornam alimento para os outros.[7]
7. Em tudo amar e servir
Quando preparei-me para ser ordenado Diácono, ficou claro que não poderia entregar a minha vida para simplesmente fazer rituais que acabassem por aplacar a resistência das pessoas ou que abafassem suas consciências da fé e da justiça, da obrigação de partilhar o que somos, temos e fazemos como cristãos. Assim, a obrigação primeira é organizar a sociedade para que todos tenham voz e vez, tenham pão e possam bem viver. Assim observei que a Missão dos jesuítas correspondia ao Evangelho de Jesus Cristo e por isso fui ordenado por Dom Luciano Mendes de Almeida, um parâmetro profético de defesa dos povos indígenas quando esteve atuando como secretário na CNBB e falou aos Constituintes que elaboraram a Constituição cidadã do Brasil de 1988.
Ordenação diaconal em Belo Horizonte, o abraço de minha mãe quando me trouxe as vestes do compromisso (25/11/1995).
Os indígenas já conhecem as diferenças entre os corpos porque as observam como ninguém, o mais difícil é identificar as almas humanas (espíritos) desses corpos, pois os seres humanos são os mais perversos entre os seres que povoam a terra, por isso estão provocando o desastre de sua própria extinção. Identificar as almas tem por fim observar se aprendemos as lições mais básicas da partilha, da entrega em sacrifício como faz o reino mineral (rios, montanhas, terra etc.), vegetal (plantas como mandioca, batatas, milho, erva-mate etc.), animal (macacos, vírus, bactérias etc.), pois esses corpos podem ser desumanizados e precisam voltar ao equilíbrio de serem novamente adequadamente humanizados. Essa complexa relação entre corpo e alma é muito diferente na visão dos índios. Devemos educar o corpo, discipliná-lo, devemos fazer rituais de iniciação para que este corpo seja identificado em sua cultura.
8. Tornar-se imperecível
Tudo tem sua sacralidade e a antropofagia entre alguns grupos étnicos é sempre simbólica, ensina anecessidade de compartilhar. Na verdade, toda ação humana é ato simbólico, a comida que é preparada com prazer fica mais gostosa. Para a nossa sensibilidade a antropofagia é de difícil aceitação. Mas nós pegamos um frango, por exemplo, e o matamos para comer de forma ritualizada, de modo que esse animalzinho é boa comida. Os indígenas pensam que os animais também fazem seus rituais simbólicos. Por isso, os animais mais perigosos como onças e lontras são comidos com a bênção do pajé entre os Bóe (Bororos).
Bom argumento para a compreensão da antropofagia é que um dia eu me alimento, outro dia outro vai se alimentar de mim. Mas isso parece pouco pois, com o dinamismo antropológico cristão de um Deus que faz a si mesmo comida, como fez Cristo Jesus na última Ceia, existe uma dimensão de um Deus que se oferece em sacrifício para aprendermos melhor algumas lições de vida. O esforço para perseverar no ser pedra, por exemplo, o próprio de cada elemento é o grande aprendizado que nos leva a outra maneira de ver a vida. Assim, ao celebrar a Missa, comer o corpo de Cristo só tem sentido se for para ter forças e coragem para entregar a vida como Jesus.
9- De agora em diante, Eucaristia é o lava-pés dos nossos irmãos!
A alegria e a delícia de servir
O mundo que nos envolve, esta criação maravilhosa, é a grata expressão do serviço.
Fazer com alegria as coisas corriqueiras do dia-a-dia é o tom que coloco no servir.
O tom da atenção, do carinho, do amor e que encanta até os mais insensíveis.
O tom do cuidado e da simplicidade que torna eficaz e luminoso meu agir.
O tom da delicadeza, da suavidade que tornam as palavras compreensíveis.
O tom do prazer de simplesmente servir tece esse abrigo com tão variadas matizes.
Gott sitzt am Webstuhl meines Lebens! (Deus está sentado no tear da minha vida)
Servir é a mais pura lição que aprendemos com o arado que abre sulcos,
Com o tijolo que está tanto no alicerce como na torre, para servir,
Com a flor do campo, do cerrado ou da Amazônia que se reveste das mais lindas cores,
Com os pássaros que voam, com os peixes a nadar no rio que se põe a servir.
E não terá fim as oportunidades e a delícia de servir com prazer e alegria, como o caminho que se estende tão longe sob as rodas do carro, da charrete, da carroça, dos pedestres em viagens por trilhas que servem sempre.
Serei discípulo-aprendiz contínuo dos gestos mais nobres e plenos de quem lavou os pés, penteou uma criança, preparou a mesa, sorriu para quem sofre, se isola... e estendeu as mãos na cruz, uma lição do Mestre Jesus.
Com essa disposição, subimos o Morro Ferrabrás a pé (Sapiranga, RS). Alguns podem pensar que fosse para saltar de asa-delta, mas estávamos procurando recuperar a história de Jacobina e dos Muckers massacrados em 1874. E quem sobe a montanha para se transfigurar, uma hora tem que descer, porque a vida pede mais de todos nós (Ano Inaciano para recordar a conversão de Santo Inácio de Loyola).
[1] PACINI, Aloir et COSTA, Loyuá Ribeiro F. M. da. A chacinagem dos Chiquitanos ano 19 • nº 317 • vol. 19 • 2021 ISSN 1679-0316 (impresso) • ISSN 2448-0304 (online).
[2] OLIVEIRA, João Pacheco de (org.) A Viagem da Volta: Etnicidade, Política e Reelaboração Cultural no Nordeste Indígena (Territórios Sociais 2). Rio de Janeiro: Contra Capa, 1999, 350 pp.
[3] Minha gratidão pela orientação do Dr. Jorge Eremites de Oliveira (UFPEL), para entrar no mundo Guarani, na linha de pesquisa a qual está vinculado Memória e Identidade. Concebo o ser humano como corpo, psique e espírito, a alma e o corpo para uma visão dualista.
[4] LIEBGOTT, Roberto Antonio et PACINI, Aloir. Pindó Poty é Guarani! Cadernos IHU ideias. Instituto Humanitas Unisinos. ano 19 • nº 320 • vol. 19 • 2021. ISSN 1679-0316 (impresso) • ISSN 2448-0304 (online) https://www.ihu.unisinos.br/images/stories/cadernos/ideias/320cadernosihuideias.pdf
[5] PACINI, Aloir. Um perspectivismo ameríndio e a cosmologia anímica chiquitana. Espaço Ameríndio, Porto Alegre, v. 6, n. 2, p. 137-177, jul./dez. 2012.
[6] PACINI, Aloir. Kaimen. O bem-viver Wapichana. Revista Tellus. Campo Grande. ano 19, nº 38, jan./abr. 2019 p. 181-211 (DOI: 10.20435/tellus.v0i0.518).
[7] Entre os indígenas, você não é uma pessoa solta, as redes de parentesco fazem com que você remeta ao outro sempre como meu pai, minha tia, meu sobrinho etc. Assim, o benemérito Padre Pedro Ignácio Schmitz merece minha gratidão pela sua pesquisa na arqueologia e no exemplo de jesuíta, minha segunda família. Ver PACINI, Aloir. A volta dos Tapayunas (Kajkwakratxi). in Instituto Anchietano de Pesquisas, Antropologia. 2021. (ISSN-2594-564).
[8] PACINI, Aloir. Resenha de: PIERRI, Daniel Calazans. O perecível e o imperecível: reflexões guarani Mbya sobre a existência.Horizontes Antropológicos. Anuário Antropológico, Brasília, UnB, 2018, v. 43, n. 2: 387-390.